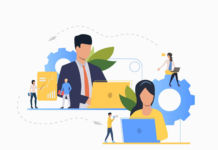“Faça primeiro, pergunte depois”. Esse foi o lema que guiou a atuação dos órgãos de acusação brasileiros na era das grandes operações, que teve seu ápice com a “lava jato”. Os maxiprocessos, via de regra, diziam respeito — e ainda dizem, mas isso era ainda mais comum no auge do lavajatismo — aos crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e outra meia dúzia de delitos financeiros.
As ações penais eram essencialmente pro forma e ritualísticas, pois costumavam desrespeitar as mais elementares regrais processuais e constitucionais. Neste cenário, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) (e seus Relatórios de Inteligência Financeira — RIFs) ganharam forte protagonismo, no passo em que permitiam um olhar extremamente profundo na vida financeira de qualquer indivíduo [1]. Súbito, deparamo-nos com o uso de RIFs como a regra, e não a exceção.
Os RIFs são documentos que contêm informações relacionadas a transações financeiras. Esses relatórios, produzidos por entidades financeiras, instituições financeiras não bancárias, bem como outras organizações sujeitas a regulamentação, são recepcionados e analisados pelo Coaf, órgão este que pode direcionar as informações emitidas por empresas e indivíduos obrigados às autoridades responsáveis pela investigação de possíveis infrações penais, conforme estabelecido no artigo 15 da Lei n° 9.613/1998.
A gestão informacional no processo penal tem sido tema de importantes análises, especialmente, depois do julgamento, com repercussão geral, do Recurso Extraordinário 1.055.941, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 990), que tratou exatamente dos limites e requisitos à utilização judicial dos RIFs produzidos pelo Coaf. O julgamento destinou-se a determinar se era necessária ou não a autorização judicial prévia para que houvesse o compartilhamento de informações financeiras sigilosas, por meio de RIFs, entre o Coaf e os órgãos de investigação criminal [2].